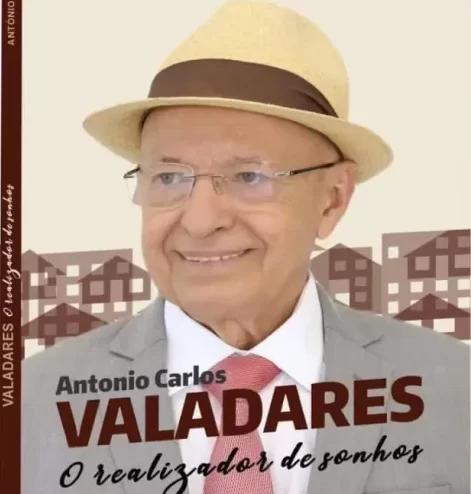PEDRO VALADARES, O PLANTADOR DE ALGODÃO
“SEU” PEDRINHO, COMO ERA CHAMADO
Todos conheciam o meu pai em Simão Dias como “Seu” Pedrinho. Antes de falar sobre a sua atividade política, que foi intensa e vitoriosa, vou recordar alguns episódios de sua vida como homem do campo e pequeno empresário.
Durante toda a sua vida dedicou-se de corpo e alma ao plantio do algodão, tornando-se o maior produtor regional da fibra.
Na época em que a agricultura tinha realmente o incentivo direto do governo federal, através do Fomento Agrícola, as terras da fazenda “Mulungu”, de propriedade do meu pai eram utilizadas em grande parte para o plantio do algodão.
No começo havia um pequeno criatório de gado leiteiro. Com o tempo misturou tudo, gado para abate, produção de leite, e roça de algodão. A fazenda, cortada pelo rio Jacaré em toda a sua extensão, ficava bem perto do povoado Pau de Leite e possuía uma área de aproximadamente 2.000 tarefas.
Ainda muito jovem, eu torcia para chegar o inverno, pois era a época em que me reencontrava com aquilo que mais me deixava impressionado: os famosos tratores de esteira caterpillar do Fomento Agrícola, máquinas possantes e barulhentas que, em pleno inverno, vencendo atoleiros, rasgando a terra, preparava-a para o plantio.
Tabaréus da mata de Simão Dias, admiradores da destreza da nossa vaqueirama no trato de cavalos e bois, ficávamos boquiabertos com os tratoristas vindos da Capital, com a sua habilidade para manejar a máquina, a sua coragem para fazer a bicha subir em serras, atravessar atoleiros e desmanchar obstáculos.
Depois de passar pelo processo de aração e gradagem a terra estava pronta para a semeadura, que era feita em covas ou escavações dispostas de forma retilínea, e em paralelo.
A mão de obra local, constituída por homens e mulheres, fazia a equipe dos plantadores de algodão. Para se protegerem do sol, todos usavam na cabeça enormes chapéus de palha. Era gente alegre e comunicativa, que participava todos os anos das festas juninas organizadas por meu pai, degustando canjica, milho verde e pamonha feitos por minha mãe, D. Caçula, não faltando o forró, animado por uma estrepitosa e bem afinada sanfona.
Durante a fase de crescimento da planta havia a limpeza do terreno que ficava infestado de mato. Nos corredores que se formavam entre as fileiras do herbáceo, vinham os cultivadores puxados a burro removendo a terra e desbastando o mato. A limpeza das raízes era tarefa executada por camponeses da localidade, os quais arrancavam as ervas daninhas que podiam prejudicar a plantação. Ainda havia o trato da roça com a aplicação de defensivos agrícolas.
Meu pai, pela boa convivência que mantinha com os seus trabalhadores, era sempre convidado pela maioria deles para ser compadre.
Guardo ainda hoje a imagem belíssima do algodoeiro, por ocasião da colheita: o verde das folhas mesclado com a alvura dos frutos que, amadurecidos, brotavam de suas cápsulas, naquela imensidão de fileiras de arbustos formando um quadro de beleza indescritível.
O meu pai que tanto se esforçara, trabalhando de sol a sol, ao avistar aquele espetáculo que ele ajudara a construir, chegava a se emocionar, sem esquecer de agradecer a Deus pela safra que obtivera, opulenta e dadivosa.
Plantar algodão naqueles tempos dava muito trabalho, e era uma cultura de risco, pois o retorno do investimento dependia muito das condições meteorológicas e das pragas. O algodoeiro exige chuva, mas não pode ser em excesso, caso contrário a produção sairá prejudicada. Quando as chuvas eram regulares, valia a pena, principalmente para meu pai que adquiriu na cidade uma fábrica de beneficiamento de algodão movida a vapor, que aproveitava a produção da fazenda “Mulungu”, agregando mais renda, e gerando emprego.